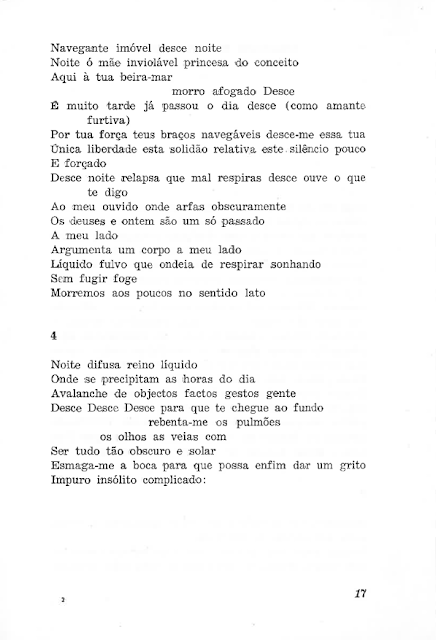Costumo dizer que dos livros espero a verdade do que lá estiver dito, seja o que for. Os textos fragmentários, descontextualizados do sítio onde estamos a lê-los, pertencem de uma forma mais intuitiva a esse espaço, uma vez que a linearidade não nos pertence em nenhum domínio.
Falo de verdade como quem diz que do ponto de vista do livro o universo criado é um universo que deve ser apreendido como real, não do ponto de vista conceptual e em linha com a nossa realidade mas do ponto de vista interior do próprio livro. Daí que a literatura não deva funcionar de uma forma meramente referencial correndo o risco de nos tornarmos responsáveis pela diluição do livro em nós antes de termos tempo de perceber que história ele nos conta.
Charlotte Delbo foi uma activista da Resistência Francesa. Delbo juntou-se à Resistência mais do que por missão, por empatia com o sofrimento do outro e incapacidade em não agir perante as atrocidades a que França assistia no início dos anos 40 do século passado. Em 1942 foi presa juntamente com o seu marido, George Dudach, assassinado na prisão uns meses depois. Em Janeiro de 1943 Delbo e 229 outras mulheres francesas, presas por actividades ligadas à Resistência, foram levadas para Auschwitz, um campo que raramente recebia não-judeus. Delbo sobreviveu ao campo porque, devido à educação que recebera juntamente com algumas das outras prisioneiras comunistas, foi destacada para algumas funções no campo que apenas algumas pessoas conseguiam executar. Mas muitas outras não tiveram essa sorte e grande parte da obra de Delbo até ao fim da vida passou por perpetuar a sua memória e as suas ideias.
No fim da Guerra e com a sua libertação escreveu a obra Auschwitz e Depois, que inclui três livros, agora publicada na nova editora de João Brito, BCF. Esperou até 1965 para a publicar em França, para perceber como agia o tempo sobre aquelas memórias.
Já muito vimos e ouvimos sobre Auschwitz. O excesso imagético arrisca a nossa indiferença perante o terror. Aliás, muitas vezes damos por nós a perceber fragmentariamente o que se passou e a ter dificuldade em ver o todo. Aqui neste livro Delbo descreve Auschwitz de uma forma que mistura a profunda empatia que ela sente ao ver o sofrimento do outro, amor mesmo, e uma dureza de estilo e de tom que denotam, talvez, algum medo de ver a história e os acontecimentos a que assistiu subvalorizados. Aqui Delbo não mostra ter qualquer cuidado com o leitor. Como se tivesse dedicado todo o cuidado aos seus companheiros de campo. É que nós não precisamos desse cuidado. Porque quando se demonstra este terror tudo o que havia para cuidar ficou para trás.
Ainda não terminei o livro, falo da visão de quem ainda está a ler. Porque para ler a Delbo precisamos de ir tendo a estrutura necessária para a deixar falar. Para não sentirmos no espaço de leitor que aquilo nos é insuportável. É uma leitura lenta, com múltiplas variações (neste livro não há só três livros, há muitos livros dentro de cada um), onde nunca deixamos de investir enquanto leitores. É-nos absolutamente vedada a passividade.
Se vamos falar de verdade a Delbo usou a verdade de milhares de pessoas com quem se cruzou em Auschwitz. E dentro daquilo que Delbo acreditou que seria a sua missão não usou a verdade parcialmente. Por isso saibam que quando pegarem neste livro nunca mais nada será igual na vossa visão do terror. Mas que estarão, de facto, sem medos, diante da mais verdadeira visão do terror.
Não faças Terrorismo Poético para outros artistas, fá-lo para pessoas que não perceberão que o que acabaste de fazer é arte. Hakim Bey
quarta-feira, 19 de dezembro de 2018
segunda-feira, 17 de dezembro de 2018
sexta-feira, 2 de novembro de 2018
Curso de Literatura Portuguesa séc. XX e XXI
 |
| cartaz de Menina Limão |
Este curso organiza-se em quatro módulos independentes:
17 NOV
Movimentos finesseculares e início do séc XX
24 NOV
Surrealismo
1 DEZ
Anos 50 a 70
8 DEZ
Literatura Contemporânea
Sábados
11h-17h
oferta de almoço (vegetariano)
Os módulos podem ser seleccionados sem sequência obrigatória, podem fazer os módulos que quiserem.
1 módulo: 60€
2 módulos: 100€
3 módulos: 130€
4 módulos: 150€
Sócios da Cossoul têm 10% de desconto*.
Inscrições e informações rosa.b.azev@gmail.com (Rosa Azevedo)
*Ser sócio da Cossoul custa 18€ por ano + 2€ de inscrição no primeiro ano
17 NOV
Movimentos finesseculares e início do séc XX
24 NOV
Surrealismo
1 DEZ
Anos 50 a 70
8 DEZ
Literatura Contemporânea
Sábados
11h-17h
oferta de almoço (vegetariano)
Os módulos podem ser seleccionados sem sequência obrigatória, podem fazer os módulos que quiserem.
1 módulo: 60€
2 módulos: 100€
3 módulos: 130€
4 módulos: 150€
Sócios da Cossoul têm 10% de desconto*.
Inscrições e informações rosa.b.azev@gmail.com (Rosa Azevedo)
*Ser sócio da Cossoul custa 18€ por ano + 2€ de inscrição no primeiro ano
Movimentos finesseculares e início do séc XX
O curso vai debruçar-se sobre a literatura portuguesa do início do séc. XX, de um ponto de vista generalista num caminho pela eclética e contrastante história da nossa literatura, sempre com o foco no leitor e na importância que a estreita relação do autor com o seu leitor teve no desenrolar dessa mesma história. Neste primeiro módulo vamos um pouco para trás pois a história de cada século começa uns anos anos e o séc XX começou a desenhar-se a partir de 1870. Vamos falar de Realismo, Naturalismo, Simbolismo, revoluções culturais do início do século, abertura para o Modernismo, Presença e do Neo-realismo.
Surrealismo Português
«A actividade surrealista não é uma simples purga seguida de um dia de descanso a caldos de galinha, mas revolta permanente contra a estabilidade e cristalização das coisas.»
António Maria Lisboa
Vamos ter Cesariny, Pacheco, O'Neill, Mário Henrique Leiria, António Maria Lisboa e outros. Vamos ter surrealismos e dadaísmos e outros ismos. Vamos perceber onde começou e para onde foi aquele que Breton considerou o mais completo surrealismo mundial.
Anos 50 a 70
A partir de 1950 a história da literatura Portuguesa começa a ramificar-se por caminhos ecléticos e diferenciados. A escolha neste módulo recai na literatura que rasgou as convenções e anunciou as imensas possibilidades da literatura a partir desta época. Vamos falar da Poesia experimental, da escrita fragmentária, da literatura proibida e do nascimento do romance. Falaremos de Vergílio Ferreira, Maria Velho da Costa, Nuno Bragança, Maria Gabriela Llansol, os poetas do Cartuxo, entre muitos outros. Falaremos também de muitas mulheres que não vingaram nos livros de História da Literatura Portuguesa pelas mais diversas razões: Maria Judite de Carvalho, Graça Pina de Morais, Celeste Andrade, entre muitas outras.
Literatura Contemporânea
Falar sobre literatura contemporânea é apenas uma forma de partilhar leituras. Não há forma de nos apoiarmos nos anos que passam sobre esta escrita, não há cânones, história, preconceitos. Não há filtros. Estamos sempre perante uma visão de uma literatura que muito longe de estar terminada está não só em crescimento como em profunda transformação.
É um imenso privilégio sabermos acompanhar a literatura no momento em que ela acontece. Com tudo o que isso implica, a responsabilidade de estarmos a viver a história da literatura juntamente com a possibilidade de nos obrigarmos a mudar de rumo enquanto leitores ou apenas de nos deixarmos surpreender.
Este módulo pretende abrir o leque de possibilidades de leituras, reflectindo sobre o que é escrever hoje numa sociedade mais imediata, mais informada, numa época em que publicar é mais fácil, em que a escrita se democratizou, obrigando-nos a ser mais criteriosos e exigentes. Vamos falar dos autores que estão no circuito comercial, dos que sofrem por ele, dos que lhe são parasitas e dos que apenas lhe são indiferentes. Vamos também falar de livros, editores, movimentos, ideias e vamos ler, pensar, discutir, num curso que é muito mais um sítio onde a partilha de leituras dita o caminho da conversa.
É um imenso privilégio sabermos acompanhar a literatura no momento em que ela acontece. Com tudo o que isso implica, a responsabilidade de estarmos a viver a história da literatura juntamente com a possibilidade de nos obrigarmos a mudar de rumo enquanto leitores ou apenas de nos deixarmos surpreender.
Este módulo pretende abrir o leque de possibilidades de leituras, reflectindo sobre o que é escrever hoje numa sociedade mais imediata, mais informada, numa época em que publicar é mais fácil, em que a escrita se democratizou, obrigando-nos a ser mais criteriosos e exigentes. Vamos falar dos autores que estão no circuito comercial, dos que sofrem por ele, dos que lhe são parasitas e dos que apenas lhe são indiferentes. Vamos também falar de livros, editores, movimentos, ideias e vamos ler, pensar, discutir, num curso que é muito mais um sítio onde a partilha de leituras dita o caminho da conversa.
-->
sexta-feira, 14 de setembro de 2018
Os incêndios são a metáfora do mundo
(prefácio de O Dia do Gafanhoto, de Nathanael West, tradução de Manuel João Neto, editado pela Snob, em pré-venda até dia 16 de Setembro)
Capa de Pedro Simões com pintura de João Alves
Uma
das facetas simultaneamente mais trágicas e gloriosas do mundo da
literatura, ao ponto de recentemente se ter cristalizado sob a forma
de teoria literária, diz respeito a uma constelação mitológica
formada por um certo género de livros significativamente mais
comentados do que propriamente lidos. Obras que viajam em comboios
invisíveis e que se inscrevem no imaginário colectivo sem
precisarem de leitores, uma vez que agarram as ideias-chave, quer
filosóficas quer iconográficas, da cultura vigente. Porém, não
menos interessantes, embora por razões diametralmente opostas, são
aqueles que são remetidos para a mais silenciosa e exclusiva
categoria dos livros mais lidos do que propriamente comentados.
Textos que vivem vidas secretas e exiladas, comentadas em murmúrios
de perplexidade, e que sobrevivem quase incógnitos ao tempo,
transfigurando-se consoante a época em que são lidos. Livros
subtilmente premonitórios e, por isso, tangencialmente desfasados da
sua época histórica, desfasados, na verdade, de qualquer época
histórica em que existam. É precisamente nessa galáxia literária
quase privada que a obra de Nathanael West, ele próprio uma difusa
personalidade de rasto discreto, e mais concretamente o romance O
Dia do Gafanhoto, orbitam.
Descendente
de judeus lituanos em fuga dos pogroms
da Rússia czarista, West nasceu em Nova Iorque em 1903 e, depois um
percurso académico pouco mais do que medíocre durante o qual, tanto
quanto nos é possível saber, não se terá interessado por outra
coisa senão ler livros, dedicou-se sobretudo à escrita, actividade
que desenvolvia em paralelo com empregos menores, tendo vivido também
por um breve período de tempo em Paris, fase em que, segundo se diz,
terá sido muito próximo de Max Ernst. Apenas a partir do momento em
que West é contratado como argumentista de cinema em Hollywood,
território geográfico e simbólico nuclear no universo mitológico
deste autor, se começa a desenhar na sua vida a perspectiva de uma
espécie de carreira. Tinha alguns amigos no meio literário, entre
eles William Carlos Williams e F. Scott Fitzgerald, e interessava-se
por misticismo e pela história das religiões. Morreu com apenas
trinta e sete anos num desastre de aviação, que vitimou também a
sua esposa, aproximadamente um ano depois de ter publicado O
Dia do Gafanhoto.
A vida de Nathanael West foi, portanto, tão
aparentemente banal e secreta como a sua obra. Não seria correcto,
no entanto, confundir essa clandestinidade com ausência de
reconhecimento crítico, uma vez que ele é actualmente considerado
um dos autores canónicos da literatura norte-americana do século
XX, graças sobretudo a “Miss Lonelyhearts”, o seu mais célebre
romance. Além do mais, a sua influência é detectátvel em autores
do pós-modernismo norte-americano e, não por acaso, no universo
cinematográfico: “O Dia do Gafanhoto” foi adaptado para cinema
sensivelmente trinta anos depois da sua publicação e é difícil,
hoje, não reconhecer nos filmes de David Lynch reminiscências dos
ambientes insólitos e das personagens bizarras que habitam as
narrativas de Nathanael West.
West
é muitas vezes caracterizado como “o mais impessoal dos escritores
americanos”, uma característica objectiva que dificulta a
classificação da sua obra. No caso de O
Dia do Gafanhoto, a força da escrita
não reside, efectivamente, nem nas personagens, nem nas suas
emoções, nem sequer na dramatização de dilemas existenciais ou
problemáticas político-filosóficas. Baseado em recursos simples e
numa engrenagem narrativa quase mecânica, este romance corresponde a
uma literatura que não pertence nem aos espaços íntimos nem se
projecta em visões sociais panorâmicas, antes propondo-se ser uma
pura literatura de imagens (ou de visões) — não surpreende,
portanto, que nele se coloque tão explicitamente em comparação as
imagéticas próprias do cinema e da pintura. Porém, e apesar do tom
distanciado e contido e da artificialidade aparente das personagens e
dos eventos narrativos que compõe o enredo de O
Dia do Gafanhoto, não é
verdadeiramente uma impessoalidade literal que transparece do texto,
mas a simulação de uma impessoalidade por meio de um jogo de
sombras. Na verdade, a personificação é um vício das próprias
personagens do livro, e nos cenários por onde elas circulam todos os
elementos parecem encenar-se permanentemente a si mesmos. Por todo o
lado se vêm máscaras, disfarces e falsificações, e nunca sabemos
exactamente quem é a voz por detrás das palavras, uma vez que o
prisma narrativo está constantemente a mudar, como se o autor nunca
estivesse realmente dentro da sua história mas antes a tropeçar
para fora do livro, ou para fora da realidade.
O
enredo de O Dia do Gafanhoto
é de uma simplicidade desconcertante: a narração num tom quase
neutro de uma série vagamente desconexa de acontecimentos
protagonizados por um grupo de personagens aleatórios sem,
aparentemente, qualquer elo em comum entre si a não ser o de
habitarem o mesmo perverso território de uma Los Angeles dominada
pela indústria cinematográfica. Este grupo de personagens inclui um
desenhador de cenários, um actor de vaudeville,
uma aspirante a actriz, um contabilista, dois cowboys
que trabalham em rodeos
e como figurantes em filmes, um empresário-anão, entre outros. No
entanto, tão importante como eles é a multidão em fuga que corre,
histérica e selvagem, pelas avenidas da cidade, hipnotizada pelo
sonho babilónico do cinema.
Tod
Hackett, o desenhador de cenários que é o protagonista do romance,
deambula pelos cenários artificiais de Hollywood, à procura de
inspiração para a pintura O Incêndio
de Los Angeles. Este quadro é a sua
grande obsessão artística, que ele pretende ver consagrada no
futuro como a reencarnação moderna das paisagens desoladoras de
pintores obscuros do século XVII, como Salvator Rosa, Francesco
Guardi e Monsu Desiderio – os grandes artistas “da Decadência e
do Mistério”, segundo West. Na pintura estão representados os
incendiários, aqueles que vão para a Califórnia para
morrer, enfeitiçados pelas visões
quase místicas da abundância e da ficção no deserto mitológico
por excelência da cultura moderna de massas, onde, como seria
previsível, nada acontece, nada, pelo menos, capaz de aliviar o
desejo irreprimível e latente de violência da multidão. Pelos
interstícios da turba, num estado mental entre o sonho
e o sono
da realidade, vagueiam os inadaptados, aqueles que são incapazes ou
que se recusam a deixar ser capturados pela magia satânica dos
tempos, em fuga desesperada do tumulto apocalíptico. O quadro O
Incêndio de Los Angeles, à semelhança
do próprio livro, sugere a representação do colapso civilizacional
de que a multidão é a mensageira e os marginais os desertores, um
mundo artificial de miragens e fantasmagorias cinemáticas onde
predomina a frustração e o tédio.
De
superfície aparentemente inócua e impessoal, porque sufocada pelas
suas próprias máscaras, esta obra de ficção descreve uma
premonição da catástrofe, cujos sinais se encontram disseminados
por todo o texto, desde as macabras lutas de galos até aos colossais
montes de lixo acumulados nos estúdios de cinema, passando pela
alusão à praga bíblica do título do livro e pelo uivo da sirene
da ambulância da cena final do livro. Com a distância do tempo,
é-nos legítimo interpretar “O Dia do Gafanhoto” como uma
parábola da atmosfera de tensão e mal-estar que precedeu a Segunda
Guerra Mundial, uma vez que nele ecoa o rumor silencioso dos
sobressaltos de massas de que o nazismo era, na época, a
manifestação mais poderosa. Podemos também reconhecer na obra uma
evocação da célebre Dust Bowl,
as tempestades de areia negra que se seguiram à seca que atingiu as
Grandes Planícies dos Estados Unidos da América logo após à
Grande Depressão, causando um desastre ambiental, agrícola e social
de grande escala que motivou uma onda deslocações migratórias em
massa, sobretudo em diáspora rumo à Califórnia. É inegável que
por entre atmosfera vagamente surrealista do enredo, reminiscente do
surrealismo simultaneamente onírico e inquietante de Max Ernst, se
pressente uma frequência de onda sinistra e ressonante desse rumor
críptico do tempo. Porém, perante uma obra de ficção tão
elíptica e alusiva como esta, qualquer interpretação não pode
senão ser assumida como circunstancial e balizada pelo seu tempo.
Analisado
em perspectiva, este livro parece ecoar ele próprio no presente,
sendo essa precisamente a grande linha de força das visões
tumultuosas e grotescas que nele se projectam e que o poeta W. H.
Auden, grande admirador de West, considera serem as parábolas de um
“Reino do Inferno”. As actuais circunstâncias políticas e
sociais parecem estranhamente similares às da época em que O
Dia do Gafanhoto foi escrito: a crise
financeira de 2008, cujos efeitos sísmicos ainda hoje se fazem
sentir, a atmosfera de alarme perante alterações climáticas e a
convulsiva e potencialmente apocalíptica situação geopolítica num
período histórico de aparente transição de poder. Em 2018, tal
como em 1939, ouvem-se os tambores ocultos da civilização e sopram
ventos que pressagiam tempestades, e no terceiro milénio, tal como
na primeira metade do século XX, confrontamo-nos com alterações
tecnológicas que estão a provocar a emergência de uma nova era
cibernética baseada em simulações virtuais da realidade. Se em
tempos imemoriais as ambições do homem se afundavam tragicamente
nos oceanos, transformando-se então no sublime “sargaço da
imaginação”, em Hollywood, por seu turno, os sonhos que nos
assombram morrem nas lixeiras dos estúdios. No terceiro milénio, os
sonhos também nascem e morrem num ecrã, mas agora num ecrã
tridimensional e imersivo que, no entanto, nunca cumpre a sua
profecia de imortalidade. No presente, assim como num período
histórico do século passado não tão distante como hoje nos
parecerá, as imagens que nos chegam do mundo compõem um quadro
mental de uma civilização pré-caótica na iminência de um
desastre que, porém, como em Blanchot, não chega nunca a ocorrer
realmente, excepto na sua dimensão alegórica e burlesca.
West
parece querer anunciar-nos que a catástrofe do futuro (o incêndio
terminal, o grande “holocausto de chamas”) será total ou não
será mais do que o espectro da catástrofe por vir do último homem
da história, ficcionando-se a si mesmo no infinito arquivo morto de
reproduções e personificações de uma realidade já anacrónica,
ultrapassada pelos duplos de si própria. A vertigem contemporânea,
à semelhança da vertigem da representação (ou, mais precisamente,
da ficção) em que se lançam as personagens deste livro, parece
capturar-nos num sono do qual, tal como Homer Simpson, a personagem
mais icónica de
O Dia do Gafanhoto,
receamos não conseguir acordar, isto é, um sono que pode
potencialmente transformar-se em morte sem que disso nos apercebamos.
Na era da ficção absoluta, esta nova forma de morte corresponde a
um puro estado de transição, suave e indolor, para uma realidade
expandida em que, aparentemente, a única linha de fuga que
entrevemos no horizonte é a do “voo uterino” da letargia e da
auto-absorção do humano no sonho de si mesmo. No vasto “lá
fora”, porém, a atmosfera prá-apocalíptica é a emanação
visível do pânico da humanidade perante a eventualidade de ser
forçada a reabitar a sua própria vida, descobrindo nela o vazio que
a paralisa e a faz naufragar num mundo de miragens insubstanciais que
são o combustível do incêndio da catarse e da regeneração do
homem pela violência.
O
Dia do Gafanhoto exorta-nos a observar
a paisagem e a decifrar os sinais. Prepare-se, leitor: neste livro
não se passa nada.
Manuel João Neto
quarta-feira, 5 de setembro de 2018
E cá estão mais dois livrinhos lançados pela nossa Snob
Escritor Fracassado e outros contos
de Roberto Arlt*
Tradução de Miguel Filipe Mochila
Desenho da capa e design do livro de Pedro Simões
Colecção Pedante
O Dia do Gafanhoto
de Nathanael West**
Tradução de Manuel João Neto
Pintura da capa de João Alves
Design de Pedro Simões
Colecção Baldio (nova colecção)
Os livros estão em pré-venda até dia 16 de Setembro. O nome de todos os que o(s) comprarem antecipadamente figurará na última página do(s) livro(s). São nossos e vossos.
O livros estão em pré-venda pelo valor de 11€ (cada um - os dois a €20), com portes de envio incluídos para Portugal Continental. Mas também enviamos para qualquer parte do mundo. Para isso deverão transferir o valor de 11€ (ou €20) para o IBAN: PT50 0035 0995 00674695530 36 (José Duarte da Silva Pereira), enviando comprovativo e nome e título do livro pretendido - para figurar nos agradecimentos - para os livreiros por mensagem facebook, comentários a este post ou para coleccaopedante@gmail.com. Podem também manifestar a vossa vontade na caixa de comentários.
Envios e entregas a partir de dia 28 de Setembro e há lançamentos marcados para Porto e Lisboa.
Desde já um grande bem haja a quem nos acompanha, ajuda e, acima de tudo, a quem continua a ler connosco.
* Escritor argentino do início do séc XX, que nos oferece aqui contos bizarros que questionam a ordem e o politicamente correcto. Textos sobre a malformação humana, que surpreendem pelo ponto de vista perante a humanidade onde o escritor se posiciona, um ponto de vista que mostra o mais improvável de vermos revelado sobre nós.
** Escritor norte-americano do início do séc. XX que escreve aqui um romance alucinado onde a escrita acompanha a febre da época em que Hollywood começou a estender o tapete ao sonho americano. Um livro de personagens estranhas e improváveis.
Os dois livros têm em comum a bizarria das personagens, a forma genial como a literatura pode retratar um real que nos recusamos a considerar possível. E falam os dois de anões.
de Nathanael West**
Tradução de Manuel João Neto
Pintura da capa de João Alves
Design de Pedro Simões
Colecção Baldio (nova colecção)
Os livros estão em pré-venda até dia 16 de Setembro. O nome de todos os que o(s) comprarem antecipadamente figurará na última página do(s) livro(s). São nossos e vossos.
O livros estão em pré-venda pelo valor de 11€ (cada um - os dois a €20), com portes de envio incluídos para Portugal Continental. Mas também enviamos para qualquer parte do mundo. Para isso deverão transferir o valor de 11€ (ou €20) para o IBAN: PT50 0035 0995 00674695530 36 (José Duarte da Silva Pereira), enviando comprovativo e nome e título do livro pretendido - para figurar nos agradecimentos - para os livreiros por mensagem facebook, comentários a este post ou para coleccaopedante@gmail.com. Podem também manifestar a vossa vontade na caixa de comentários.
Envios e entregas a partir de dia 28 de Setembro e há lançamentos marcados para Porto e Lisboa.
Desde já um grande bem haja a quem nos acompanha, ajuda e, acima de tudo, a quem continua a ler connosco.
* Escritor argentino do início do séc XX, que nos oferece aqui contos bizarros que questionam a ordem e o politicamente correcto. Textos sobre a malformação humana, que surpreendem pelo ponto de vista perante a humanidade onde o escritor se posiciona, um ponto de vista que mostra o mais improvável de vermos revelado sobre nós.
** Escritor norte-americano do início do séc. XX que escreve aqui um romance alucinado onde a escrita acompanha a febre da época em que Hollywood começou a estender o tapete ao sonho americano. Um livro de personagens estranhas e improváveis.
Os dois livros têm em comum a bizarria das personagens, a forma genial como a literatura pode retratar um real que nos recusamos a considerar possível. E falam os dois de anões.
quinta-feira, 30 de agosto de 2018
A esperança e a Maria Judite de Carvalho
O que é em tudo mais fascinante na Maria Judite de Carvalho não é aquilo que escreve, não é cada uma daquelas histórias tristes, desesperançadas, de uma triste beleza atroz. É a esperança que está em cada um dos contos. É a humanidade e a sobrevivência de cada uma das personagens confrontadas tantas vezes com caminhos sem saída. A Maria Judite está-nos a ensinar a resistir. Escreve sobre a esperança por debaixo do terramoto de uma humanidade virada para um único fim comum, a morte. Mas dentro de cada história as personagens evitam o caminho comum e constroem a sua estrutura com o que têm em mãos, que quase nunca é o mundo externo que os condena, é outra coisa. Ler Maria Judite é estar sempre a encontrar essa outra coisa.
quinta-feira, 5 de julho de 2018
Ainda preciso escrever sobre Erskine Caldwell
Ando há uns tempos a desenvolver um fascínio por alguns escritores que não são escritores de obras primas, mas que usam a palavra para marcar uma posição forte, incontornável e surpreendente. Escritores que falham, que não escrevem sobre o sublime nem de forma sublime, mas escritores que perceberam o poder da palavra depois de impressa.
Um destes escritores é Erskine Caldwell (EUA 1903 - 1987). A última vez que foi publicado em Portugal foi numa (muito feia) edição da Saída de Emergência e antes disso tinham saído umas edições soltas nas duas últimas décadas do século passado. Até aos anos 70 teve atenção das maiores editoras portuguesas. O seu grande livro é a Estrada do Tabaco, transformado em filme por John Ford, um filme que retira do livro alguns dos momentos mais poderosos da narrativa. É considerado um dos grandes escritores americanos que acabou por ser também ele silenciado por uma América que, sendo (tendo sido) a terra da liberdade tem ainda assim alguma dificuldade em lidar com confrontos directos, humanos, como os conflitos que Caldwell soube tão bem escrever.
Caldwell é o escritor da parte mais podre da América. Começa a escrever em 1929, ano do crash da bolsa de NY, acontecimento que lança o país numa miséria profunda. E não estamos aqui a falar de miséria enquanto pobreza inerente às cidades. É mais do que isso. A América foi lançada numa miséria onde os homens e mulheres do interior do país são abandonados à sua sorte. O interior dos Estados Unidos fica sem nada. Não há comida, há muita especulação, há climas pouco propícios às plantações. É esse país que Caldwell procura e descreve. O país que está nos antípodas do Sonho Americano. O país dos vencidos, dos doentes, um país onde a humanidade é posta à prova e onde surgem as figuras mais estranhas e obscuras. Todas as personagens de Caldwell incomodam, causam desconforto, sobretudo numa época de prosperidade como a nossa.
Caldwell escreveu a sua autobiografia em 1951, Call It Experience, e ler este livro mostra-nos de forma mais acutilante as particularidades deste escritor. Muito jovem Caldwell decide ser escritor. De forma racional e com clareza percebe que não é possível ser escritor enquanto experimenta ser outra coisa qualquer. Assim, torna-se escritor e jornalista, achando que ambas as profissões se relacionavam, apesar de muito cedo ter percebido que eram até antagónicas. Durante dez anos passou fome e frio, viveu com muitas dificuldades, enviou centenas de contos para dezenas de revistas. Caldwell criou-se enquanto escritor. Viveu anos com as personagens a crescer na cabeça dele, imaginou-as, conviveu com elas, pensou-as. E depois escreveu o primeiro romance, A Estrada do Tabaco, (de que já falei neste blog), uma obra magistral sobre o fim da humanidade e sobre a desumanidade (ambas muito diferentes). Depois escreve o segundo romance, A Jeira de Deus, um livro perturbador que nos mostra, em apenas duas ou três páginas, das mulheres mais fortes que já vi em toda a literatura, uma mulher que parece ser a grande vítima dos homens e que, rapidamente, se torna na figura mais poderosa do livro, com um discurso brilhante sobre o amor e o erotismo. Caldwell era um reconhecido feminista, as mulheres de Caldwell são independentes, fortes e lutadoras. Mas não são as mulheres convencionais. No seu livro O Dedo de Deus a personagem principal é uma mulher que fornece à vila umas "injecções de vitaminas" que as deixam felizes e com os problemas absolutamente relativizados. É a mulher heroína e ao mesmo tempo a prostituta, divorciada, mãe sozinha. Uma mulher que nunca se deixa cair. Ainda que, como em todos os livros de Caldwell, só no final se revele verdadeiramente.
Mas não se deixem enganar, não há empatia com as personagens de Caldwell. Elas não nos são simpáticas, épicas, grandiosas. Nada em Caldwell o é verdadeiramente. Aqui não há heróis no clássico sentido da palavra. Há sobreviventes com muito poder. Há pessoas sem estereótipo que sobrevivem a uma América racista, exploradora e preconceituosa. Nenhuma personagem é, aparentemente, "the girl next door". E no final todas são. Porque a humanidade não é estereotipada. E o Caldwell viu isso da melhor forma de todas, através da literatura. E mesmo que não tenha escrito absolutas obras de arte, Caldwell escreveu algo muito mais importante que isso, falou de nós, e de tudo aquilo que tememos ao olhar para o lado. Falou do que, na humanidade, nos habituámos a calar.
Um destes escritores é Erskine Caldwell (EUA 1903 - 1987). A última vez que foi publicado em Portugal foi numa (muito feia) edição da Saída de Emergência e antes disso tinham saído umas edições soltas nas duas últimas décadas do século passado. Até aos anos 70 teve atenção das maiores editoras portuguesas. O seu grande livro é a Estrada do Tabaco, transformado em filme por John Ford, um filme que retira do livro alguns dos momentos mais poderosos da narrativa. É considerado um dos grandes escritores americanos que acabou por ser também ele silenciado por uma América que, sendo (tendo sido) a terra da liberdade tem ainda assim alguma dificuldade em lidar com confrontos directos, humanos, como os conflitos que Caldwell soube tão bem escrever.
Caldwell é o escritor da parte mais podre da América. Começa a escrever em 1929, ano do crash da bolsa de NY, acontecimento que lança o país numa miséria profunda. E não estamos aqui a falar de miséria enquanto pobreza inerente às cidades. É mais do que isso. A América foi lançada numa miséria onde os homens e mulheres do interior do país são abandonados à sua sorte. O interior dos Estados Unidos fica sem nada. Não há comida, há muita especulação, há climas pouco propícios às plantações. É esse país que Caldwell procura e descreve. O país que está nos antípodas do Sonho Americano. O país dos vencidos, dos doentes, um país onde a humanidade é posta à prova e onde surgem as figuras mais estranhas e obscuras. Todas as personagens de Caldwell incomodam, causam desconforto, sobretudo numa época de prosperidade como a nossa.
Caldwell escreveu a sua autobiografia em 1951, Call It Experience, e ler este livro mostra-nos de forma mais acutilante as particularidades deste escritor. Muito jovem Caldwell decide ser escritor. De forma racional e com clareza percebe que não é possível ser escritor enquanto experimenta ser outra coisa qualquer. Assim, torna-se escritor e jornalista, achando que ambas as profissões se relacionavam, apesar de muito cedo ter percebido que eram até antagónicas. Durante dez anos passou fome e frio, viveu com muitas dificuldades, enviou centenas de contos para dezenas de revistas. Caldwell criou-se enquanto escritor. Viveu anos com as personagens a crescer na cabeça dele, imaginou-as, conviveu com elas, pensou-as. E depois escreveu o primeiro romance, A Estrada do Tabaco, (de que já falei neste blog), uma obra magistral sobre o fim da humanidade e sobre a desumanidade (ambas muito diferentes). Depois escreve o segundo romance, A Jeira de Deus, um livro perturbador que nos mostra, em apenas duas ou três páginas, das mulheres mais fortes que já vi em toda a literatura, uma mulher que parece ser a grande vítima dos homens e que, rapidamente, se torna na figura mais poderosa do livro, com um discurso brilhante sobre o amor e o erotismo. Caldwell era um reconhecido feminista, as mulheres de Caldwell são independentes, fortes e lutadoras. Mas não são as mulheres convencionais. No seu livro O Dedo de Deus a personagem principal é uma mulher que fornece à vila umas "injecções de vitaminas" que as deixam felizes e com os problemas absolutamente relativizados. É a mulher heroína e ao mesmo tempo a prostituta, divorciada, mãe sozinha. Uma mulher que nunca se deixa cair. Ainda que, como em todos os livros de Caldwell, só no final se revele verdadeiramente.
Mas não se deixem enganar, não há empatia com as personagens de Caldwell. Elas não nos são simpáticas, épicas, grandiosas. Nada em Caldwell o é verdadeiramente. Aqui não há heróis no clássico sentido da palavra. Há sobreviventes com muito poder. Há pessoas sem estereótipo que sobrevivem a uma América racista, exploradora e preconceituosa. Nenhuma personagem é, aparentemente, "the girl next door". E no final todas são. Porque a humanidade não é estereotipada. E o Caldwell viu isso da melhor forma de todas, através da literatura. E mesmo que não tenha escrito absolutas obras de arte, Caldwell escreveu algo muito mais importante que isso, falou de nós, e de tudo aquilo que tememos ao olhar para o lado. Falou do que, na humanidade, nos habituámos a calar.
sexta-feira, 8 de junho de 2018
You Have Seen Their Faces
Um livro de Erskine Caldwell & Margaret Bourke-White, fotógrafa.
Os dois percorreram o sul dos Estados Unidos à procura de caras para frases de personagens de anteriores romances do Caldwell.
“The South has always been shoved around like a country cousin. It buys mill-ends and it wears hand-me-downs. It sits at second-table and is fed short-rations. It is the place where the ordinary will do, where the makeshift is good enough. It is that dogtown on the other side of the railroad tracks that smells so badly every time the wind changes. It is the Southern Extremity of America, the Empire of the Sun, the Cotton States; it is the Deep South, Down South; it is The South.”
Os dois percorreram o sul dos Estados Unidos à procura de caras para frases de personagens de anteriores romances do Caldwell.
“The South has always been shoved around like a country cousin. It buys mill-ends and it wears hand-me-downs. It sits at second-table and is fed short-rations. It is the place where the ordinary will do, where the makeshift is good enough. It is that dogtown on the other side of the railroad tracks that smells so badly every time the wind changes. It is the Southern Extremity of America, the Empire of the Sun, the Cotton States; it is the Deep South, Down South; it is The South.”
terça-feira, 8 de maio de 2018
Dark Chambers #01
Uma noite de Dark Poetry e Dark Music, na Cossoul.
[O Dark Chambers é uma proposta de exploração poética, literária e musical de ambientes e temas sombrios, ocultos ou fantásticos. Faz-se do encontro entre a poesia de autores como William Blake, com a sua corte de cores escuras, e de música com afinidades com o dark folk ou o dark ambient. O bar da Cossoul abre as hostilidades com leituras encenadas de poesia de um dos mais sombrios franceses, Charles Baudelaire (por Rosa Azevedo), de um quase desconhecido norte-americano adoptado por um casal blavatskiano, Robert Duncan (por Ana Salomé) e do supremo vocalista de Mão Morta, Adolfo Luxúria Canibal, com o seu livro 'Todas as Ruas do Mundo' (editado pela Do lado esquerdo, 2013) (por André Carvalho). Recebe também Peter Wood para um concerto de blues com ventos nocturnos. Apareçam!]
21:30
Warm up
21:50
Baudelaire, por Rosa Azevedo
22:40
Robert Duncan, por Ana Salomé
23:00
Adolfo Luxúria Canibal, por André Carvalho
23:30
Concerto Peter Wood
Peter Wood criou-se no Cacém. Com a imaginação inflamada pela guitarra primitiva de John Fahey e Frank Ferreira, compõe música que cruza o blues poeirento com o uivo saudoso do comboio inter-regional na noite lúgubre do subúrbio. A guitarra acústica, sem mistura, domina o repertório. Por vezes solta a voz invocar os ciprestes do Mississippi ou os barqueiros do Volga.
Gregário, é por vezes avistado em bandos, por exemplo, com Joana Guerra, com quem forma os Hidden Circus dos Asimov. Segundo uma tradição antiga, chegou mesmo a ser Brainwashed by Amalia. Traz música nova e histórias para contar (enquanto afina a guitarra), bem como exemplares recentemente resgatados do cd-r de estreia (2015), com capa linogravada pelo artista sobre desenho da traça desconhecida.
Evento facebook
[O Dark Chambers é uma proposta de exploração poética, literária e musical de ambientes e temas sombrios, ocultos ou fantásticos. Faz-se do encontro entre a poesia de autores como William Blake, com a sua corte de cores escuras, e de música com afinidades com o dark folk ou o dark ambient. O bar da Cossoul abre as hostilidades com leituras encenadas de poesia de um dos mais sombrios franceses, Charles Baudelaire (por Rosa Azevedo), de um quase desconhecido norte-americano adoptado por um casal blavatskiano, Robert Duncan (por Ana Salomé) e do supremo vocalista de Mão Morta, Adolfo Luxúria Canibal, com o seu livro 'Todas as Ruas do Mundo' (editado pela Do lado esquerdo, 2013) (por André Carvalho). Recebe também Peter Wood para um concerto de blues com ventos nocturnos. Apareçam!]
21:30
Warm up
21:50
Baudelaire, por Rosa Azevedo
22:40
Robert Duncan, por Ana Salomé
23:00
Adolfo Luxúria Canibal, por André Carvalho
23:30
Concerto Peter Wood
Peter Wood criou-se no Cacém. Com a imaginação inflamada pela guitarra primitiva de John Fahey e Frank Ferreira, compõe música que cruza o blues poeirento com o uivo saudoso do comboio inter-regional na noite lúgubre do subúrbio. A guitarra acústica, sem mistura, domina o repertório. Por vezes solta a voz invocar os ciprestes do Mississippi ou os barqueiros do Volga.
Gregário, é por vezes avistado em bandos, por exemplo, com Joana Guerra, com quem forma os Hidden Circus dos Asimov. Segundo uma tradição antiga, chegou mesmo a ser Brainwashed by Amalia. Traz música nova e histórias para contar (enquanto afina a guitarra), bem como exemplares recentemente resgatados do cd-r de estreia (2015), com capa linogravada pelo artista sobre desenho da traça desconhecida.
Evento facebook
REVERSO – ENCONTRO DE AUTORES, ARTISTAS E EDITORES INDEPENDENTES
Por mais um ano consecutivo, a Cossoul organiza o REVERSO – ENCONTRO DE AUTORES, ARTISTAS E EDITORES INDEPENDENTES. De 17 a 19 de Maio, as nossas portas voltam a abrir-se para receber editores e criadores das diversas áreas artísticas – da poesia e da literatura ao teatro, da música às artes plásticas e ao cinema. Será a última edição no n.º 61 da Avenida D. Carlos I, em Santos, uma vez que a Cossoul mudará de instalações. A entrada é gratuita.
⑅⑅⑅⑅⑅⑅⑅⑅⑅⑅⑅⑅⑅⑅⑅⑅
QUINTA, 17 DE MAIO
⑅⑅⑅⑅⑅⑅⑅⑅⑅⑅⑅⑅⑅⑅⑅⑅
17h30 ◇ Sala da Biblioteca, Sala Raul Solnado, Bar
____________________
❐ Abertura das exposições e início das projecções:
‣ Cartazes de Homem do Saco [Sala da Biblioteca]
‣ «The girl with the veil», de Vitorino Coragem [Bar]
‣ Serigrafia de Mattia Denisse [Sala Raul Solnado]
‣ Episódios do vídeo-documentário Arquipélago [Sala da Biblioteca]
18h00-19h00 ◇ Bar
____________________
❐ Apresentação de projectos:
‣ Comicalate, por Miguel Leão
‣ Letreiro Galeria, por Paulo Barata e Rita Múrias
‣ Revista online Jogos Florais, por Maria Sequeira Mendes
19h00-20h00 ◇ Sala Raul Solnado
____________________
❐ Mesa redonda: «Compor a Escuta»,
moderada por Ernesto Donoso, com Bruno Gabirro, Nuno Jacinto, Pedro Pinto Figueiredo e Rui Magno Pinto
21h00-22h00 ◇ Sala Raul Solnado
____________________
❐ Vídeo/cinema:
Exibição de curtas-metragens de Ricardo Vieira Lisboa e conversa com o autor conduzida por Luís Miguel Oliveira
22h00-23h00 ◇ Bar
____________________
❐ Lançamentos, apresentações, leituras, performances:
Leitura de inéditos de Alberto Lacerda, por Cláudio Henriques, Paulo Tavares e Sara Felício (Colectivo Prisma)
❐ Leitura de excerto d’Os Irmãos Karamázov, de F. Dostoievski, por Carla Maciel
23h00-23h30 ◇ Sala Raul Solnado
____________________
❐ Sessão musical:
André David
23h30 ◇ Sala da Biblioteca
____________________
❐ Playlist:
David Henriques
⑅⑅⑅⑅⑅⑅⑅⑅⑅⑅⑅⑅⑅⑅⑅
SEXTA, 18 DE MAIO
⑅⑅⑅⑅⑅⑅⑅⑅⑅⑅⑅⑅⑅⑅⑅⑅
18h00-19h00 ◇ Bar
____________________
❐ Apresentação de projectos:
‣ Cinema Ideal, por Pedro Borges
‣ ETIC – Escola de Tecnologias, Inovação e Criação, por Manuela Carlos
‣ Faísca Teatro, por Beatriz Silva, Fábio Vaz e João Pires
19h00-20h00 ◇ Sala Raul Solnado
____________________
❐ Mesa redonda: «Cultura descentralizada»,
com Jaime Rocha (Poesia, um dia), Duarte Pereira (Snob), Isaque Ferreira (Realizar:poesia), Joaquim Gonçalves (A das Artes) e Sónia Silva (Distopia)
21h00-22h00 ◇ Sala Raul Solnado
____________________
❐ Vídeo/cinema:
Filme de animação «Razão Entre Dois Volumes», de Catarina Sobral
22h30-23h30 ◇ Bar
____________________
❐ Lançamentos, apresentações, leituras, performances:
‣ Apresentação do livro «Diálogos Marados», de Rui Caeiro, com o autor, Jorge Roque, Rosa Azevedo e Rui Nunes
‣ Apresentação e leituras de «Antologia Poética», de Carl Sandburg, por Vasco Gato, Isaque Ferreira e Miguel Santos
23h30-00h00 ◇ Sala Raul Solnado
____________________
❐ Sessão musical:
Jake Shane
00h00 ◇ Sala da Biblioteca
____________________
❐ Playlist:
Cinderella's Big Score
⑅⑅⑅⑅⑅⑅⑅⑅⑅⑅⑅⑅⑅⑅⑅⑅⑅
SÁBADO, 19 DE MAIO
⑅⑅⑅⑅⑅⑅⑅⑅⑅⑅⑅⑅⑅⑅⑅⑅⑅
17h00-18h30 ◇ Sala Raul Solnado
____________________
❐ Vídeo/cinema:
Sessão do Ciclo de Cinema «Imagens do Teatro», com exibição do documentário «Ainda não Acabámos: Como se Fosse uma Carta», de Jorge Silva Melo, com apresentação de Cláudia Marques e Luís Miguel Oliveira
19h00-20h30 ◇ Sala Raul Solnado
____________________
❐ Apresentação de projectos:
‣ À Pala de Walsh, por Luís Mendonça e Ricardo Vieira Lisboa
‣ Sombras de Alguém, por Filipe Bonito
‣ Revista Electra, por António Guerreiro
‣ Carpintarias de São Lázaro, por Marcos Barbosa
‣ Do trapézio, sem rede, por Luís Filipe Parrado
21h30-23h30 ◇ Bar
____________________
❐ Lançamentos, apresentações, leituras, performances:
‣ Lançamento do livro Os Crimes Montanhosos, de António Cabrita e Mbate Pedro, com a presença dos autores
‣ O POETA COMPARECEU EM PESO
Leitura e conversa em torno da poesia de Manuel Resende, com a presença do autor e convidados: Ana Gomes, Filipe Guerra (a confirmar), Margarida Vale de Gato, Rosa Azevedo, Rui Manuel Amaral, Zé Lima
23h30-00h00 ◇ Sala Raul Solnado
____________________
❐ Sessão musical:
‣ Galmadrua
00h00 ◇ Sala da Biblioteca
____________________
❐ Playlist:
‣ Grémio Nefelibata
Evento facebook
quarta-feira, 2 de maio de 2018
Curso de literatura portuguesa séc XXI
 |
| cartaz Menina Limão |
24 e 31 de Maio
7 e 21 de Junho
19h30
50€
com rosa azevedo
Inscrições e outras informações: rosa.b.azev@gmail.com
Evento facebook: https://www.facebook.com/events/188377581792181/
Falar sobre literatura contemporânea é apenas uma forma de partilhar leituras. Não há forma de nos apoiarmos nos anos que passam sobre esta escrita, não há cânones, história, preconceitos. Não há filtros. Estamos sempre perante uma visão de uma literatura que muito longe de estar terminada está não só em crescimento como em profunda transformação.
É um imenso privilégio sabermos acompanhar a literatura no momento em que ela acontece. Com tudo o que isso implica, a responsabilidade de estarmos a viver a história da literatura juntamente com a possibilidade de nos obrigarmos a mudar de rumo enquanto leitores ou apenas de nos deixarmos surpreender.
Este curso pretende abrir o leque de possibilidades de leituras, reflectindo sobre o que é escrever hoje numa sociedade mais imediata, mais informada, numa época em que publicar é mais fácil, em que a escrita se democratizou, obrigando-nos a ser mais criteriosos e exigentes. Vamos falar dos autores que estão no circuito comercial, dos que sofrem por ele, dos que lhe são parasitas e dos que apenas lhe são indiferentes. Vamos também falar de livros, editores, movimentos, ideias e vamos ler, pensar, discutir, num curso que é muito mais um sítio onde a partilha de leituras dita o caminho da conversa.
Autores
Afonso Cruz, Alexandre Andrade, Manuel Resende, Marta Navarro, José Miguel Silva, Ana Teresa Pereira, António Cabrita, Miguel Manso, Manuel de Freitas, Andreia Faria, Sandra Andrade, Daniel Faria, Helder Moura Pereira, António Franco Alexandre, Herberto Hélder, Gonçalo M. Tavares, Daniel Jonas, Vasco Gato, entre muitos outros.
rosa azevedo
Formada em Literatura Portuguesa e Francesa tem curso minor em Literaturas do Mundo e tem mestrado em Edição de Texto. Tem realizado desde 2007 diversos cursos de literatura portuguesa e hispano-americana, para além de outros trabalhos de produção ligados à literatura, nomeadamente na área do surrealismo e da edição independente. Fundou e foi presidente da Associação Cultural Respigarte e do grupo teatral A Mancha. É produtora do Reverso – encontro de autores, artistas e editores independentes, do Colectivo Prisma e do Muito Cá de Casa da Casa da Cultura de Setúbal, onde é também moderadora. Colabora com a direcção da Cossoul em questões de produção, programação e associativismo. Mantém o blog estórias com livros.
É livreira, produtora, formadora, editora, revisora e divulgadora da área dos livros. Na verdade, aquilo que gosta de fazer é ler.
sexta-feira, 27 de abril de 2018
A MINHA MUSA
É mais casta do que eu
e só bebe água mineral.
Furtiva, insolente, caprichosa,
às vezes desaparece-me de casa
durante meses. Apetece-me
bater-lhe. Mas talvez a culpa
seja minha. Passo tanto tempo
a coçar a cabeça ou no terraço
a ver passar os aviões.
É natural que se farte de mim,
raramente estou em casa
quando chega, prefiro dormir
a ver televisão com ela
sentada nos meus joelhos.
Amiúde me pergunto
se compensam os tormentos
a que me força.
Meteu na cabeça fazer
de mim poeta, quando
o que eu gostaria era de ser
aviador. (Mas tenho medo
das alturas, e ela sabe-o.
Aproveita-se da minha debilidade.)
Obriga-me a ficar de olhos abertos
durante o sono, a estudar os
caninos que a vida me mostra,
o manual dos elementos, a história
calamitosa dos meus erros.
É preciso ter estômago
para tanta solidão. Não admira
que muitas vezes a traia
com a Helena, com o bourbon
dos amigos, com o voo violeta
do jacarandá no Largo do Viriato.
Mas não adianta, não sente ciúmes,
ela própria me empurra
para os braços do mundo.
É tão exigente, tão snob, tão
tinhosa. Por ela, não havia
domingos nem feriados,
não havia verão. Era sempre
toda a vida um quarto escuro
com filmes de série B e
uma banda sonora de tiros, soluços,
gargalhadas de teatro anatómico.
Marca-me duelos – é louca! –
com temíveis espadachins,
à vista dos quais a minha alma
treme dos pés à cabeça. Diz que
me faz bem sangrar um bocado,
que é minha amiga, talvez.
Fria, severa, calculadora,
tenta o que pode para contrariar
a minha natureza ruidosa,
paciente, sentimental.
Diz que é uma porcaria
escrever com lágrimas, recita
Mallarmé, levanta-se de noite
para me rasgar os poemas.
Não é fácil aturá-la.
Só para me irritar, muda
o nome de todas as coisas:
se vê um massacre chama-lhe
acre de terra lavrada,
vê um mendigo chama-lhe
trigo, vê uma porta
e chama-lhe susto.
Às vezes pergunto-me
se não será parva.
A verdade é que não sou feliz
com ela, apenas um pouco
mais solitário.
Mas sem ela – vejam que
tristeza, que abandono, que.
Ulisses Já Não Mora Aqui
& etc., 2002, José Miguel Silva
quarta-feira, 18 de abril de 2018
segunda-feira, 16 de abril de 2018
segunda-feira, 9 de abril de 2018
sobre a Literatura Portuguesa contemporânea
Há uma grande falácia na modernidade tecnológica. Não estamos cada vez mais perto do mundo, estamos antes com vários olhos postos em quem está ao nosso lado. A arte existia quando era produto de uma cabeça consciente dos seus limites físicos. Como se tivesse maiores possibilidades artísticas quando o produto artístico era um objecto auto-suficiente antes de pensar nas restantes possibilidades. Hoje estamos perante uma forte mutação dessa realidade.
A literatura contemporânea portuguesa está neste momento a atravessar um deserto longo e penoso do ponto de vista artístico, porque há muito tempo que a literatura desistiu de se posicionar. A pós-modernidade trouxe ao pensamento artístico algumas teias perigosas, mas muitas possibilidades artísticas, infinitas. E dessas tantas possibilidades a literatura portuguesa tem-se deixado arrastar por uma literatura que rejeita por um lado a ideia da arte e por outro a ideia de identidade. Poucas são as obras que trazem um verdadeiro questionamento do imenso poder da palavra, da capacidade revolucionária de um livro, da capacidade que a obra de arte tem em atingir um qualquer ponto fulcral.
É natural que ao lerem este texto a vossa cabeça se posicione criticamente de forma negativa perante o que aqui está. Porque o séc. XXI é o século que, na literatura, nos traz a ideia de que tudo é permitido. Ainda numa espécie de ressaca de regimes totalitários (artísticos e não), acreditamos que não nos devemos posicionar, que devemos deixar o livro existir na forma que quiser. Mas esse posicionamento é o oposto da opressão e é o sinónimo da liberdade. Escolhermos o sítio da arte, defendermos e conhecermos o impacto do que escrevemos, é o apogeu da liberdade criativa. A nossa literatura tem a doença da aceitação e aceitação pode rapidamente tornar-se quantitativa. Essa aceitação tem sido o contrário da liberdade criativa.
Há excepções, claro. Poemas soltos, ideias, noites longas, copos de vinho. Amigos. Alguns livros. Alguns livros redescobertos. Mas falta-nos vontade de quebrar barreiras e este século tem sido muito frutífero em criá-las. A tecnologia é uma delas, as rotinas, o capitalismo, a falta de opções, outras.
Mas é uma fase, claro. Só que é uma fase mais longa porque é muito confortável. Porque a vida pode ser muito simples. Porque a verdadeira criação artística provoca-nos questionamentos que não são necessariamente sofrimentos, mas são processos transformativos e evolutivos. Talvez os nossos poetas e escritores sejam apenas muitos, pode ser isso. Mas é difícil ser optimista perante isto, e talvez o optimismo não seja a postura necessária. Devemos ao mundo uma constante sensação de desconforto para que nunca nenhum momento nos pareça finalizado.
A literatura contemporânea portuguesa está neste momento a atravessar um deserto longo e penoso do ponto de vista artístico, porque há muito tempo que a literatura desistiu de se posicionar. A pós-modernidade trouxe ao pensamento artístico algumas teias perigosas, mas muitas possibilidades artísticas, infinitas. E dessas tantas possibilidades a literatura portuguesa tem-se deixado arrastar por uma literatura que rejeita por um lado a ideia da arte e por outro a ideia de identidade. Poucas são as obras que trazem um verdadeiro questionamento do imenso poder da palavra, da capacidade revolucionária de um livro, da capacidade que a obra de arte tem em atingir um qualquer ponto fulcral.
É natural que ao lerem este texto a vossa cabeça se posicione criticamente de forma negativa perante o que aqui está. Porque o séc. XXI é o século que, na literatura, nos traz a ideia de que tudo é permitido. Ainda numa espécie de ressaca de regimes totalitários (artísticos e não), acreditamos que não nos devemos posicionar, que devemos deixar o livro existir na forma que quiser. Mas esse posicionamento é o oposto da opressão e é o sinónimo da liberdade. Escolhermos o sítio da arte, defendermos e conhecermos o impacto do que escrevemos, é o apogeu da liberdade criativa. A nossa literatura tem a doença da aceitação e aceitação pode rapidamente tornar-se quantitativa. Essa aceitação tem sido o contrário da liberdade criativa.
Há excepções, claro. Poemas soltos, ideias, noites longas, copos de vinho. Amigos. Alguns livros. Alguns livros redescobertos. Mas falta-nos vontade de quebrar barreiras e este século tem sido muito frutífero em criá-las. A tecnologia é uma delas, as rotinas, o capitalismo, a falta de opções, outras.
Mas é uma fase, claro. Só que é uma fase mais longa porque é muito confortável. Porque a vida pode ser muito simples. Porque a verdadeira criação artística provoca-nos questionamentos que não são necessariamente sofrimentos, mas são processos transformativos e evolutivos. Talvez os nossos poetas e escritores sejam apenas muitos, pode ser isso. Mas é difícil ser optimista perante isto, e talvez o optimismo não seja a postura necessária. Devemos ao mundo uma constante sensação de desconforto para que nunca nenhum momento nos pareça finalizado.
quinta-feira, 5 de abril de 2018
Pedro Oom
A poesia não necessita de "ser salva" porque o que nós entendemos por poesia não necessita de espécie alguma de salvação. Todo o acto de revolta ou de rebeldia, todo o processo de violentar "a natureza" e de desconhecer o direito e a moral é para nós poesia embora não se plasme, não se fixe, não se possa generalizar - e aqui está, implícita, a recusa terminante de amarrar o poeta a uma técnica, seja ela qual for, mesmo a mais actual, a mais oportuna, porque, precisamente, o que o distingue o homem da técnica é um sentido de não oportunidade, de inoportunidade, que lhe advém de uma clarividência total e duma insubmissão permanente ante os conceitos, regras e princípios estabelecidos. Com isto não queremos dizer (Deus nos livre!) que o poeta seja um louco, um visionário, mas que, se ele tem de possuir uma estética e uma moral é, sem sombra de dúvida, uma estética e uma moral próprias.
Pedro Oom
sexta-feira, 9 de março de 2018
Mulheres e Revolução
Mulheres e Revolução
Maria Velho da Costa
Coisas que elas dizem:
— Se mexes aí, corto-ta.
— Isso não são coisas de menina.
— O meu homem não quer.
— Estuda, que se tiveres um empregozinho sempre é uma ajuda.
— A mulher quer-se é em casa.
— Isto já vai do destino de cada um.
— Deus não quiz.
— Mas o senhor padre disse-me que assim não.
— Dá um beijinho à senhora que é tão boazinha para a gente.
— Você sabe que eu não sou dessas.
— Estás a dar cabo do teu futuro com uns e com outros.
— Deixa-te disso, o que é preciso é sossego e paz de espírito.
— Comprei uns jeans bestiais, pá.
— Sempre dá para uma televisão daquelas novas.
— Cada um no seu lugar.
— Julgas que ele depois casa contigo?
— Sempre há-de haver pobres e ricos.
— Se tu gostasses de mim não andavas com aquela cabra a gastar o nosso.
— Põe o comer ao teu irmão que está a fazer os trabalhos.
— Sempre é homem.
Maria Velho da Costa
Elas vão à parteira que lhes diz que já vai adiantado. Elas alargam o
cós das saias. Elas choram a vomitar na pia. Elas limpam a pia. Elas
talham cueiros. Elas passam fitilhos de seda no melhor babeiro. Elas
andam descalças que os pés já não cabem no calçado. Elas urram. Elas
untam o mamilo gretado com um dedal de manteiga. Elas cantam baixinho a
meio da noite a niná-lo para que o homem não acorde. Elas raspam as
fezes das fraldas com uma colher romba. Elas lavam. Elas carregam ao
colo. Elas tiram o peito para fora debaixo de um sobreiro. Elas apuram o
ouvido no escuro para ver se a gaiata na cama ao lado com os irmãos não
dá por aquilo. Elas assoam. Elas lavam joelhos com água morna. Elas
cortam calções e bibes de riscado. Elas mordem os beiços e torcem as
mãos, a jorna perdida se o febrão não desce. Elas lavam os lençois com
urina. Elas abrem a risca do cabelo, elas entrançam. Elas compram a
lousa e o lápis e a pasta de cartão. Elas limpam rabos. Elas guardam uma
madeixita entre dois trapos de gaze. Elas talham um vestido de fioco
para uma boneca de papelão escondida debaixo da cama. Elas lavam as
cuecas borradas do primeiro sémen, do primeiro salário, da recruta. Elas
pedem fiado popeline da melhor para a camisa que hão-de levar para a
França, para Lisboa. Elas vão à estação chorosas. Elas vêm trazer um
borrego à primeira barraca e ao primeiro neto. Elas poupam no eléctrico
para um carrinho de corda.
Coisas que elas dizem:
— Se mexes aí, corto-ta.
— Isso não são coisas de menina.
— O meu homem não quer.
— Estuda, que se tiveres um empregozinho sempre é uma ajuda.
— A mulher quer-se é em casa.
— Isto já vai do destino de cada um.
— Deus não quiz.
— Mas o senhor padre disse-me que assim não.
— Dá um beijinho à senhora que é tão boazinha para a gente.
— Você sabe que eu não sou dessas.
— Estás a dar cabo do teu futuro com uns e com outros.
— Deixa-te disso, o que é preciso é sossego e paz de espírito.
— Comprei uns jeans bestiais, pá.
— Sempre dá para uma televisão daquelas novas.
— Cada um no seu lugar.
— Julgas que ele depois casa contigo?
— Sempre há-de haver pobres e ricos.
— Se tu gostasses de mim não andavas com aquela cabra a gastar o nosso.
— Põe o comer ao teu irmão que está a fazer os trabalhos.
— Sempre é homem.
Elas olham para o espelho muito tempo. Elas choram. Elas suspiram por um
rapaz aloirado, por duas travessas para o cabelo cravejadas de
pedrinhas, um anel com pérola. Elam limpam com algodão húmido as dobras
da vagina da menina pensando, coitadinha. Elas escondem os panos sujos
de sangue carregadas de uma grande tristeza sem razão. Elas sonham três
noites a fio com um homem que só viram de relance à porta do café. Elas
trazem no saco das compras uma pequena caixa de plástico que serve para
pintar a borda dos olhos de azul. Elas inventam histórias de comadres
como quem aventura. Elas compram às escondidas cadernos de romances em
fotografias. Elas namoram muito. Elas namoram pouco. Elas não dormem a
pensar em pequenas cortinas com folhos. Elas arrancam os primeiros
cabelos brancos com uma pinça comprada na drogaria. Elas gritam a
despropósito e agarram-se aos filhos acabados de sovar. Elas andam na
vida sem a mãe saber, por mais três vestidos e um par de botas. Elas
pagam a letra da moto ao que lhes bate. Elas não falam dessas coisas.
Elas chamam de noite nomes que não vêm. Elas ficam absortas com a mola
da roupa entre os dentes a olhar o gato sentado no telhado entre as
sardinheiras. Elas queriam outra coisa.
Elas fizeram greves de braços caídos. Elas brigaram em casa para ir ao
sindicato e à junta. Elas gritaram à vizinha que era fascista. Elas
souberam dizer salário igual e creches e cantinas. Elas vieram para a
rua de encarnado. Elas foram pedir para ali uma estrada de alcatrão e
canos de água. Elas gritaram muito. Elas encheram as ruas de cravos.
Elas disseram à mãe e à sogra que isso era dantes. Elas trouxeram alento
e sopa aos quartéis e à rua. Elas foram para as portas de armas com os
filhos ao colo. Elas ouviram faltar de uma grande mudança que ia entrar
pelas casas. Elas choraram no cais agarradas aos filhos que vinham da
guerra. Elas choraram de ver o pai a guerrear com o filho. Elas tiveram
medo e foram e não foram. Elas aprenderam a mexer nos livros de contas e
nas alfaias das herdades abandonadas. Elas dobraram em quatro um papel
que levava dentro urna cruzinha laboriosa. Elas sentaram-se a falar à
roda de uma mesa a ver como podia ser sem os patrões. Elas levantaram o
braço nas grandes assembleias. Elas costuraram bandeiras e bordaram a
fio amarelo pequenas foices e martelos. Elas disseram à mãe, segure-me
aqui os cachopos, senhora, que a gente vai de camioneta a Lisboa
dizer-lhes como é. Elas vieram dos arrebaldes com o fogão à cabeça
ocupar uma parte de casa fechada. Elas estenderam roupa a cantar, com as
armas que temos na mão. Elas diziam tu às pessoas com estudos e aos
outros homens. Elas iam e não sabiam para aonde, mas que iam. Elas
acendem o lume. Elas cortam o pão e aquecem o café esfriado. São elas
que acordam pela manhã as bestas, os homens e as crianças adormecidas.
in Cravo (1976).
in Cravo (1976).
E o próximo nosso é o nosso Rui Caeiro
O Rui foi chegando devagar à Snob. Com aquele passo lento que o caracteriza, lento de quem tem todo o tempo, sempre. Aproximou-se da nossa banca de livros no Jardim da Parada e o Duarte reconheceu-o logo. Faz agora, exactamente, um ano.
Desde aí o Rui Caeiro foi-se apropriando da nossa vida. Primeiro com muitas conversas com o Duarte ao telefone e alguns encontros casuais. Sempre com aquela característica que é muito dele, a do acaso. Sem regras ou obrigações. Sempre que se lembrava, sempre que queria partilhar um texto ou uma memória. O Rui, como bom conversador que é, tem muitas memórias que quer partilhar. E assim surgiu a ideia de um livro (ou melhor, três livros), e o Rui ofereceu-o à Snob. Com aquela generosidade desprovida de encantamento, só uma rude honestidade. Depois o Rui tornou-se quotidiano e amigo e confidente da Snob. Parte das rotinas. E todas as semanas o livro ia crescendo em mesas de restaurantes e cafés. Sem falhar.
 O Rui passou por toda a literatura dos últimos 50 anos do séc XX. Não sendo um autor de palco, fez um caminho que não é de todo um caminho identificável dentro deste showbiz literário. Mas é identificado por todos. Sem rodeios, sem forçar caminho, sem se encaixar em nenhuma categoria literária, a escrever.
O Rui passou por toda a literatura dos últimos 50 anos do séc XX. Não sendo um autor de palco, fez um caminho que não é de todo um caminho identificável dentro deste showbiz literário. Mas é identificado por todos. Sem rodeios, sem forçar caminho, sem se encaixar em nenhuma categoria literária, a escrever.Para a Snob este é o terceiro livro. E, não tendo nós nenhuma linha editorial identificável (porque não existe), este livro tornou-se necessário. Porque são as memórias de um grande escritor que é um escritor da nossa rotina. E um escritor que se tornou escritor da nossa rotina enquanto o livro se colava. Sem margens, sem limites.
Livro em pré-venda aqui.
terça-feira, 6 de março de 2018
||SNOB CALL - Rui Caeiro||
É com grande honra e orgulho que apresentamos o nosso novo livro. Que na realidade não é um mas sim dois livros que se espelham num mesmo volume em rotação contínua.
A pré-venda termina no próximo dia 11 de Março. Os subscritores terão direito a um exclusivo terceiro inédito (ver imagem nos comentários): um desdobrável em acordeão, numerado e assinado pelo Rui.
O valor da pré-venda é de €12, portes de envio incluídos para Portugal
Continental. Mas também enviamos para qualquer parte do mundo. Para isso
deverão transferir o valor de €12 para o IBAN: PT50 0035 0995
00674695530 36 (José Duarte da Silva Pereira), enviando comprovativo e
nome - para figurar nos agradecimentos - para os livreiros por aqui ou
para coleccaopedante@gmail.com.
Desde já um grande bem haja a quem nos acompanha, ajuda e, acima de tudo, a quem continua a ler connosco.
Excertos:
DIÁLOGOS MARADOS
"— Zé, conta-me a história do teu encontro com o ovni, perto de Monsaraz.
— Não gosto de falar nisso, diz-me o meu primo Zé. Ninguém acredita na história, dizem que eu devia estar bêbado.
Hoje já não há ninguém para contar a história. Tu já não estás cá para o fazer.
Eles, que eu saiba, não voltaram.
Mas hoje, ao perguntar-me porque se mostraram eles a ti e não a outro qualquer passeante, creio que sei a resposta.
Porquê a ti? Porque tu eras um homem bom e, quem sabe, um homem bom é difícil de encontrar e a bondade ainda será uma espécie de mais-valia no mundo extraterrestre."
UM MALUCO VEM POUSAR-ME NA MÃO
"Cada um deles é uma bazuca de dois canos, é uma esfera escorregadia, é uma longa espera, é um lago, é um lego, é um mundo.
E que até, em casos extremos (o dos tais tarados com vocação para líder) se pode fazer explodir, num qualquer estúpido atentado mais ou menos bombista, mais ou menos suicida.
E que pode por igual ser um exemplo reconfortante — para todo um universo vasto, descontrolado e perdido."
Desde já um grande bem haja a quem nos acompanha, ajuda e, acima de tudo, a quem continua a ler connosco.
Excertos:
DIÁLOGOS MARADOS
"— Zé, conta-me a história do teu encontro com o ovni, perto de Monsaraz.
— Não gosto de falar nisso, diz-me o meu primo Zé. Ninguém acredita na história, dizem que eu devia estar bêbado.
Hoje já não há ninguém para contar a história. Tu já não estás cá para o fazer.
Eles, que eu saiba, não voltaram.
Mas hoje, ao perguntar-me porque se mostraram eles a ti e não a outro qualquer passeante, creio que sei a resposta.
Porquê a ti? Porque tu eras um homem bom e, quem sabe, um homem bom é difícil de encontrar e a bondade ainda será uma espécie de mais-valia no mundo extraterrestre."
UM MALUCO VEM POUSAR-ME NA MÃO
"Cada um deles é uma bazuca de dois canos, é uma esfera escorregadia, é uma longa espera, é um lago, é um lego, é um mundo.
E que até, em casos extremos (o dos tais tarados com vocação para líder) se pode fazer explodir, num qualquer estúpido atentado mais ou menos bombista, mais ou menos suicida.
E que pode por igual ser um exemplo reconfortante — para todo um universo vasto, descontrolado e perdido."
quinta-feira, 22 de fevereiro de 2018
O meu curso de Literatura Portuguesa do Séc XX está de volta
 |
| Cartaz ©Menina Limão |
CURSO DE LITERATURA PORTUGUESA SÉC XX
com rosa azevedo
1, 8, 15, 22, 29 Março . 19h30 . 5 sessões (90min). 50€
Cossoul
Av. D. Carlos I, 61
Lisboa
O curso vai debruçar-se sobre a literatura portuguesa do séc. XX, de um ponto de vista generalista num caminho pela eclética e contrastante história da nossa literatura, sempre com o foco no leitor e na importância que a estreita relação do autor com o seu leitor teve no desenrolar dessa mesma história. As cinco sessões pretendem dar uma visão alargada do que se passou em Portugal no séc. XX até aos dias de hoje, procurando um paralelismo com os principais movimentos artísticos mundiais.
❐ PROGRAMA
▸ 1ª SESSÃO
realismo, naturalismo, simbolismo, revoluções culturais do início do século, abertura para o modernismo
▸ 2ª SESSÃO
modernismo, contexto cultural da época: os intelectuais e a literatura
▸ 3ª SESSÃO
surrealismo
▸ 4ª SESSÃO
neo-realismo: movimento revolucionário com máscara
anos 50 a 70: literatura sem marca
▸ 5ª SESSÃO
dos anos 80 aos nossos dias
✦ AUTORES
Eça de Queirós, Cesário Verde, Ângelo de Lima, Fernando Pessoa e heterónimos, Mário de Sá-Carneiro, Mário Cesariny, António José Forte, Mário Henrique-Leiria, António Maria Lisboa, Manuel de Lima, Herberto Helder, Manuel da Fonseca, Manuel de Castro, Luiz Pacheco, Alexandre O’Neill, Carlos de Oliveira, Mário Dionísio, Maria Velho da Costa, Rui Nunes, Vergílio Ferreira, Jorge de Sousa Braga, Maria Gabriela Llansol, Nuno Bragança, José Saramago, João Miguel Fernandes Jorge, Ana Teresa Pereira, Teresa Veiga, António Ramos Rosa, Valério Romão, Gonçalo M. Tavares, entre outros.
✦ ROSA AZEVEDO
Nasceu em 1982 em Lisboa. Terminou em 2004 a licenciatura em Línguas e Literaturas Modernas, maior em variante de estudos portugueses, franceses e menor em Literaturas do Mundo, em 2008 o mestrado em Edição de Texto. Tem realizado desde 2007 diversos cursos de literatura portuguesa e hispano-americana, para além de outros trabalhos de produção ligados à literatura, nomeadamente na área do surrealismo e da edição independente. Fundou e foi presidente da Associação Cultural Respigarte. Mantém o blog estórias com livros. Foi livreira e hoje é produtora, formadora, revisora e dinamizadora / divulgadora da área dos livros.
Evento Facebook
com rosa azevedo
1, 8, 15, 22, 29 Março . 19h30 . 5 sessões (90min). 50€
Cossoul
Av. D. Carlos I, 61
Lisboa
O curso vai debruçar-se sobre a literatura portuguesa do séc. XX, de um ponto de vista generalista num caminho pela eclética e contrastante história da nossa literatura, sempre com o foco no leitor e na importância que a estreita relação do autor com o seu leitor teve no desenrolar dessa mesma história. As cinco sessões pretendem dar uma visão alargada do que se passou em Portugal no séc. XX até aos dias de hoje, procurando um paralelismo com os principais movimentos artísticos mundiais.
❐ PROGRAMA
▸ 1ª SESSÃO
realismo, naturalismo, simbolismo, revoluções culturais do início do século, abertura para o modernismo
▸ 2ª SESSÃO
modernismo, contexto cultural da época: os intelectuais e a literatura
▸ 3ª SESSÃO
surrealismo
▸ 4ª SESSÃO
neo-realismo: movimento revolucionário com máscara
anos 50 a 70: literatura sem marca
▸ 5ª SESSÃO
dos anos 80 aos nossos dias
✦ AUTORES
Eça de Queirós, Cesário Verde, Ângelo de Lima, Fernando Pessoa e heterónimos, Mário de Sá-Carneiro, Mário Cesariny, António José Forte, Mário Henrique-Leiria, António Maria Lisboa, Manuel de Lima, Herberto Helder, Manuel da Fonseca, Manuel de Castro, Luiz Pacheco, Alexandre O’Neill, Carlos de Oliveira, Mário Dionísio, Maria Velho da Costa, Rui Nunes, Vergílio Ferreira, Jorge de Sousa Braga, Maria Gabriela Llansol, Nuno Bragança, José Saramago, João Miguel Fernandes Jorge, Ana Teresa Pereira, Teresa Veiga, António Ramos Rosa, Valério Romão, Gonçalo M. Tavares, entre outros.
✦ ROSA AZEVEDO
Nasceu em 1982 em Lisboa. Terminou em 2004 a licenciatura em Línguas e Literaturas Modernas, maior em variante de estudos portugueses, franceses e menor em Literaturas do Mundo, em 2008 o mestrado em Edição de Texto. Tem realizado desde 2007 diversos cursos de literatura portuguesa e hispano-americana, para além de outros trabalhos de produção ligados à literatura, nomeadamente na área do surrealismo e da edição independente. Fundou e foi presidente da Associação Cultural Respigarte. Mantém o blog estórias com livros. Foi livreira e hoje é produtora, formadora, revisora e dinamizadora / divulgadora da área dos livros.
Evento Facebook
quarta-feira, 31 de janeiro de 2018
As irmãs Brontë
Em 1847 a editora Smith,
Elder & Co recebe três romances assinados por três nomes quase
deconhecidos da literatura inglesa, nomes que até aí tinham apenas
publicado um livro conjunto de poemas que tinha sido um verdadeiro
fracasso comercial. Eram eles o Jane Eyre de Currer Bell, The Wuthering
Heights de Ellis Bell e Agnes Grey de Acton Bell.
Os três romances tinham sido escritos por três irmãs que, reféns da sociedade vitoriana do séc XIX, acharam melhor assiná-los com nomes de homens e só após a sua publicação darem a conhecer a sua identidade. São elas Charlotte, Emily e Anne Brontë.
É sempre possível lermos um livro sem contexto, aliás é essa uma das grandes lutas dos leitores de todo o mundo, a defesa mais ou menos convicta de que o texto vale por si, dizem uns, e de que o contexto enriquece o texto, dizem outros. No entanto, aqui vamos, para já (e verão que faz sentido), deter-nos na vida das irmãs Brontë, que não altera o texto de cada um dos livros mas sim acrescenta um contexto que é em si próprio uma lição e um pensamento sobre a resiliência destas escritoras num mundo onde as mulheres começavam a poder escrever mas não podiam, nunca, escrever nenhum destes livros.
As três irmãs pertenciam a uma família de cinco irmãs e um irmão. As duas irmãs mais velhas morreram ainda crianças vítimas de tuberculose, com poucas semanas de diferença. O pai, responsável único pela educação das crianças, não conseguindo lidar com a dor e a culpa de saber que o internato onde as irmãs se encontravam era o grande responsável por estas mortes, traz as outras filhas para casa. Essa casa encontrava-se ao fundo de uma povoação, rodeada por montes ventosos e frios, uma terra inóspita e escura. O pai, obcecado com os incêndios, não tem cortinas ou tapetes em casa. É uma casa sóbria e cinzenta. Chama para educar as filhas uma irmã, severa ainda que justa, tia que substitui para as Brontë a mãe que lhes morrera muito cedo.
É neste ambiente que as irmãs e o irmão mais velho, Branwell, crescem selvagens, com a sua criatividade como único utensílio artístico. Uns soldados de madeira eram os únicos brinquedos e serviram como ponto de partida para histórias fantásticas, mundos partilhados entre eles, histórias detalhadamente descritas. Todos os irmãos eram extremamente dotados de uma sensibilidade artística fora do comum e passavam os seus dias a vivê-la intensamente, numa obrigatória mas cada vez mais desejada solidão.
As irmãs Brontë cresceram quase sem conhecer ou ter contacto com a sociedade patriarcal da Inglaterra do séc. XIX. Aprenderam a desenvolver a imaginação como lugar de conforto. Criaram um mundo onde elas tivessem o lugar que queriam ter. E foi assim que escreveram estes três livros. Não o fizeram por serem radicais, eram antes feministas antes do tempo por terem decidido que, se criavam figuras femininas, elas iam poder exercer o poder que a literatura traz em si - o poder de modificar e influenciar o leitor.
Emily Brontë
The Wuthering Heights
Este livro exerce sobre o leitor do séc XXI o fascínio da intemporalidade. É um livro que mesmo escrito hoje poderia ser considerado intemporal. Um dos boatos que corre sobre o livro é de que é um livro gótico com fantasmas. Mas não é um livro de fantasmas, é um livro sobre o poder da obsessão, sobre a ideia da memória dos nossos mortos, de como podemos transformar essa memória e esse ideal de alguém que já cá não está numa assombração. Ouve-se também dizer que esta é a história de amor de Heathcliff e Catherine mas também não é isso que o livro conta (como afirma Charlotte no prefácio à segunda edição) - o livro conta-nos como a obsessão de Heathcliff pela Catherine possibilitou que se tornasse numa personalidade com um nível de maldade e acidez próprio de um monstro não humano. Catherine, por sua vez, vive a vida sem ideais de amor, como um vendaval, aproveitando e tirando da vida o que esta lhe vai dando, sem grande plano. É uma história sem heróis numa altura em que a própria literatura era feita de heróis.
A estrutura narrativa é também muito invulgar, complexa e perfeita. É invulgar alguém escrever um livro destes sem nunca ter escrito nada antes. Claramente, percebemos que toda a vida da Emily tinha sido um intrincado e complexo mundo de imaginação e criação de ficções.
O livro foi um fracasso (e, claramente, só podia ser). O mundo não estava preparardo para a genialidade de Emily. Esta morreu sem ver uma segunda edição e esmagada pelas críticas, até da própria irmã, que achava inconcebível alguém criar um Heathcliff.
Charlotte Brontë
Jane Eyre
Confesso que, depois de muito pesquisar, parti para este livro com a sensação (justificada) de que a Charlotte era, das três, a mais conservadora e a que fugia mais do risco na criação literária. E este livro acabou, também por isso, por ser surpreendente. A narrativa é até linear, sem distorção, mas mais nada é linear dentro do livro. Jane Eyre, orfã, é criada por uma tia e três primos que não lhe têm qualquer amor. Até aos dez anos, idade em que é internada num colégio de beneficiência, Jane não tem memória de qualquer tipo de afeição. A partir daí percebe que tentar agradar às pessoas não lhe traz frutos e percebe que só há uma forma de nos fazermos amar: através da honestidade. E é nesta honestidade que reside o ponto forte do livro e da Jane. Ela cresce tendo sempre por princípio que será transparente com os que a rodeiam, e com as opções que toma na vida. É um livro sobre a verdade. Jane cresce e vive sempre de acordo com a verdade. Sem ser moralista (ela não vive de acordo com a moral e sim com a verdade), Jane vive sem plano pré-definido. Rejeita a igreja por amar a ideia de Deus, rejeita o amor por não se sentir confortável na posição em que este a coloca. Procura apenas a ideia de família enquanto ligação ao mundo, laço que desde cedo percebeu que tinha de recuperar, nunca o teve por adquirido. É um livro e uma Jane (eles são uma e a mesma coisa) como nunca mais encontraremos na literatura. E uma verdadeira homenagem a esta verdade tão pouco querida aos floreados da literatura europeia daquela época.
Anne Brontë
Agnes Grey
The Tenant of Wildfell Hall
Agnes Grey é um livro menos intenso que os outros, bastante diferente aliás, e conta a história de uma mulher, Agnes Grey, que resolve sair de casa e ir trabalhar como perceptora, tornando-se independente perante uma família e uma sociedade que tinham outros planos para ela.
Coloco aqui os dois livros de Anne porque o segundo, The Tenant of Wildfell Hall, é muito mais interessante do que o primeiro. A primeira edição do The Tenant of Wildfell Hall esgotou em seis meses tendo sido considerado por muitos um livro ofensivo, exagerado na forma como tratava a personagem masculina, imoral. No prefácio à 2ª edição Anne diz que vai republicar o livro exactamente como o escreveu apesar das duras críticas, porque acredita que a maldade aos olhos dos leitores pode abrir muito mais horizontes do que experienciá-la ao longo da vida. Diz, também, que mostra um homem despótico e violento, e uma mulher que se soube insurgir na defesa dela e do seu filho, tentando influenciar jovens mulheres a não aceitarem este tipo de vida e de tratamento. Diz que se mudar para melhor apenas a vida de uma mulher já terá valido a pena toda a sua vida de escritora. Anne aqui quebrou todas as convenções da sua época, enfrentando espíritos susceptíveis, facilmente impressionáveis, que preferiam que não se fizesse tanto alarido à volta da situação da mulher que, relembro, era, na Inglaterra do séc XIX, propriedade do homem com quem tinha casado.
Charlotte fala com desagrado deste livro dizendo que Anne teria exagerado na criação desta personagem. Ela responde que só terá exagerado no dia em que um leitor se sentir aborrecido com os seus livros. Nunca antes. Nunca por fazer com que os leitores vissem o que era a realidade de muitas mulheres do seu tempo. Charlotte poderá ter sido responsável por Anne Brontë não estar, da mesma forma, entre os grandes escritores mundiais, como estão as irmãs, ao repudiar este segundo livro. Anne Brontë foi por muitos considerada a primeira escritora feminista.
Os três romances tinham sido escritos por três irmãs que, reféns da sociedade vitoriana do séc XIX, acharam melhor assiná-los com nomes de homens e só após a sua publicação darem a conhecer a sua identidade. São elas Charlotte, Emily e Anne Brontë.
É sempre possível lermos um livro sem contexto, aliás é essa uma das grandes lutas dos leitores de todo o mundo, a defesa mais ou menos convicta de que o texto vale por si, dizem uns, e de que o contexto enriquece o texto, dizem outros. No entanto, aqui vamos, para já (e verão que faz sentido), deter-nos na vida das irmãs Brontë, que não altera o texto de cada um dos livros mas sim acrescenta um contexto que é em si próprio uma lição e um pensamento sobre a resiliência destas escritoras num mundo onde as mulheres começavam a poder escrever mas não podiam, nunca, escrever nenhum destes livros.
As três irmãs pertenciam a uma família de cinco irmãs e um irmão. As duas irmãs mais velhas morreram ainda crianças vítimas de tuberculose, com poucas semanas de diferença. O pai, responsável único pela educação das crianças, não conseguindo lidar com a dor e a culpa de saber que o internato onde as irmãs se encontravam era o grande responsável por estas mortes, traz as outras filhas para casa. Essa casa encontrava-se ao fundo de uma povoação, rodeada por montes ventosos e frios, uma terra inóspita e escura. O pai, obcecado com os incêndios, não tem cortinas ou tapetes em casa. É uma casa sóbria e cinzenta. Chama para educar as filhas uma irmã, severa ainda que justa, tia que substitui para as Brontë a mãe que lhes morrera muito cedo.
É neste ambiente que as irmãs e o irmão mais velho, Branwell, crescem selvagens, com a sua criatividade como único utensílio artístico. Uns soldados de madeira eram os únicos brinquedos e serviram como ponto de partida para histórias fantásticas, mundos partilhados entre eles, histórias detalhadamente descritas. Todos os irmãos eram extremamente dotados de uma sensibilidade artística fora do comum e passavam os seus dias a vivê-la intensamente, numa obrigatória mas cada vez mais desejada solidão.
As irmãs Brontë cresceram quase sem conhecer ou ter contacto com a sociedade patriarcal da Inglaterra do séc. XIX. Aprenderam a desenvolver a imaginação como lugar de conforto. Criaram um mundo onde elas tivessem o lugar que queriam ter. E foi assim que escreveram estes três livros. Não o fizeram por serem radicais, eram antes feministas antes do tempo por terem decidido que, se criavam figuras femininas, elas iam poder exercer o poder que a literatura traz em si - o poder de modificar e influenciar o leitor.
Emily Brontë
The Wuthering Heights
Este livro exerce sobre o leitor do séc XXI o fascínio da intemporalidade. É um livro que mesmo escrito hoje poderia ser considerado intemporal. Um dos boatos que corre sobre o livro é de que é um livro gótico com fantasmas. Mas não é um livro de fantasmas, é um livro sobre o poder da obsessão, sobre a ideia da memória dos nossos mortos, de como podemos transformar essa memória e esse ideal de alguém que já cá não está numa assombração. Ouve-se também dizer que esta é a história de amor de Heathcliff e Catherine mas também não é isso que o livro conta (como afirma Charlotte no prefácio à segunda edição) - o livro conta-nos como a obsessão de Heathcliff pela Catherine possibilitou que se tornasse numa personalidade com um nível de maldade e acidez próprio de um monstro não humano. Catherine, por sua vez, vive a vida sem ideais de amor, como um vendaval, aproveitando e tirando da vida o que esta lhe vai dando, sem grande plano. É uma história sem heróis numa altura em que a própria literatura era feita de heróis.
A estrutura narrativa é também muito invulgar, complexa e perfeita. É invulgar alguém escrever um livro destes sem nunca ter escrito nada antes. Claramente, percebemos que toda a vida da Emily tinha sido um intrincado e complexo mundo de imaginação e criação de ficções.
O livro foi um fracasso (e, claramente, só podia ser). O mundo não estava preparardo para a genialidade de Emily. Esta morreu sem ver uma segunda edição e esmagada pelas críticas, até da própria irmã, que achava inconcebível alguém criar um Heathcliff.
Charlotte Brontë
Jane Eyre
Confesso que, depois de muito pesquisar, parti para este livro com a sensação (justificada) de que a Charlotte era, das três, a mais conservadora e a que fugia mais do risco na criação literária. E este livro acabou, também por isso, por ser surpreendente. A narrativa é até linear, sem distorção, mas mais nada é linear dentro do livro. Jane Eyre, orfã, é criada por uma tia e três primos que não lhe têm qualquer amor. Até aos dez anos, idade em que é internada num colégio de beneficiência, Jane não tem memória de qualquer tipo de afeição. A partir daí percebe que tentar agradar às pessoas não lhe traz frutos e percebe que só há uma forma de nos fazermos amar: através da honestidade. E é nesta honestidade que reside o ponto forte do livro e da Jane. Ela cresce tendo sempre por princípio que será transparente com os que a rodeiam, e com as opções que toma na vida. É um livro sobre a verdade. Jane cresce e vive sempre de acordo com a verdade. Sem ser moralista (ela não vive de acordo com a moral e sim com a verdade), Jane vive sem plano pré-definido. Rejeita a igreja por amar a ideia de Deus, rejeita o amor por não se sentir confortável na posição em que este a coloca. Procura apenas a ideia de família enquanto ligação ao mundo, laço que desde cedo percebeu que tinha de recuperar, nunca o teve por adquirido. É um livro e uma Jane (eles são uma e a mesma coisa) como nunca mais encontraremos na literatura. E uma verdadeira homenagem a esta verdade tão pouco querida aos floreados da literatura europeia daquela época.
Anne Brontë
Agnes Grey
The Tenant of Wildfell Hall
Agnes Grey é um livro menos intenso que os outros, bastante diferente aliás, e conta a história de uma mulher, Agnes Grey, que resolve sair de casa e ir trabalhar como perceptora, tornando-se independente perante uma família e uma sociedade que tinham outros planos para ela.
Coloco aqui os dois livros de Anne porque o segundo, The Tenant of Wildfell Hall, é muito mais interessante do que o primeiro. A primeira edição do The Tenant of Wildfell Hall esgotou em seis meses tendo sido considerado por muitos um livro ofensivo, exagerado na forma como tratava a personagem masculina, imoral. No prefácio à 2ª edição Anne diz que vai republicar o livro exactamente como o escreveu apesar das duras críticas, porque acredita que a maldade aos olhos dos leitores pode abrir muito mais horizontes do que experienciá-la ao longo da vida. Diz, também, que mostra um homem despótico e violento, e uma mulher que se soube insurgir na defesa dela e do seu filho, tentando influenciar jovens mulheres a não aceitarem este tipo de vida e de tratamento. Diz que se mudar para melhor apenas a vida de uma mulher já terá valido a pena toda a sua vida de escritora. Anne aqui quebrou todas as convenções da sua época, enfrentando espíritos susceptíveis, facilmente impressionáveis, que preferiam que não se fizesse tanto alarido à volta da situação da mulher que, relembro, era, na Inglaterra do séc XIX, propriedade do homem com quem tinha casado.
Charlotte fala com desagrado deste livro dizendo que Anne teria exagerado na criação desta personagem. Ela responde que só terá exagerado no dia em que um leitor se sentir aborrecido com os seus livros. Nunca antes. Nunca por fazer com que os leitores vissem o que era a realidade de muitas mulheres do seu tempo. Charlotte poderá ter sido responsável por Anne Brontë não estar, da mesma forma, entre os grandes escritores mundiais, como estão as irmãs, ao repudiar este segundo livro. Anne Brontë foi por muitos considerada a primeira escritora feminista.
Subscrever:
Mensagens (Atom)